Às vezes é preciso "convencer" de que se está doente: a língua como "barreira" na "jornada" dos imigrantes no SNS
A Reportagem TSF viajou com imigrantes por corredores de hospitais, onde vários idiomas se cruzam, mas muitos não são percebidos, nem as suas queixas. Há quem faça de tudo para ultrapassar obstáculos, outros nem tanto. O que está a saúde pública a desenvolver para receber quem chega a Portugal?
Ana Sousa e Cláudia Alves Mendes
A língua "foi a primeira barreira" que Riya (nome fictício) encontrou quando recorreu ao Serviço Nacional de Saúde. "Demorou imenso tempo para convencer" os profissionais de que "estava doente e precisava de cuidados urgentes". Veio a saber, mais tarde, que tinha um tumor cerebral. Num outro hospital, Cecília Minascurta assegura que, se não fosse o apoio da Associação de Imigrantes Mundo Feliz, Ioan Nistor "com certeza estaria cego".
Ao longe são já audíveis diversos ritmos e sotaques. É um dia agitado na Associação de Imigrantes Mundo Feliz, em Lisboa, que está a distribuir cabazes. É um entra e sai frenético de um espaço decorado com desenhos de bandeiras de vários países. Mas, no meio da azáfama, há um silêncio que preenche um dos cantos da sala. Riya, visivelmente tímida, está sentada à espera da sua vez.
O frio de dezembro, ao qual não está habituada, faz com que use um gorro. Mas essa não é a única razão: foi operada à cabeça devido a um cancro e teve de rapar o cabelo. Descobriu a doença quando chegou a Portugal, há 11 meses, vinda do Bangladesh. Os sintomas de Riya não eram visíveis: uma dor de cabeça é uma manifestação típica de vários problemas e não necessariamente graves. Tudo isto complicou o atendimento e o diagnóstico.

"Foi muito difícil explicar-lhes o que estava a sentir", conta à TSF, em inglês, mas só após se ter precipitado a justificar que já está a aprender português.
Logo no balcão de atendimento sentiu pouco empenho para ser entendida, apesar de reconhecer que estes funcionários "têm de fazer muitas coisas ao mesmo tempo" e ficam "exaustos". Já os médicos mostraram mais abertura em falar inglês.
Só após ter sido detetado o problema de saúde, as pessoas, revela a mulher de 47 anos, "sentiram simpatia e começaram a comportar-se de outra forma".
Agora, ainda que esteja numa fase elementar da aprendizagem da língua, nota que já não tem encontrado obstáculos "como antes", porque consegue "compreender". E não deixa de fazer um esforço: quando vai ao hospital começa por falar em português e refere que para já só consegue expressar-se "um bocadinho" e pede para continuar o resto da conversa em inglês.
"Se calhar, daqui a uns tempos terei uma noção sobre os termos médicos e estarei mais confortável", afirma, exprimindo esse desejo.
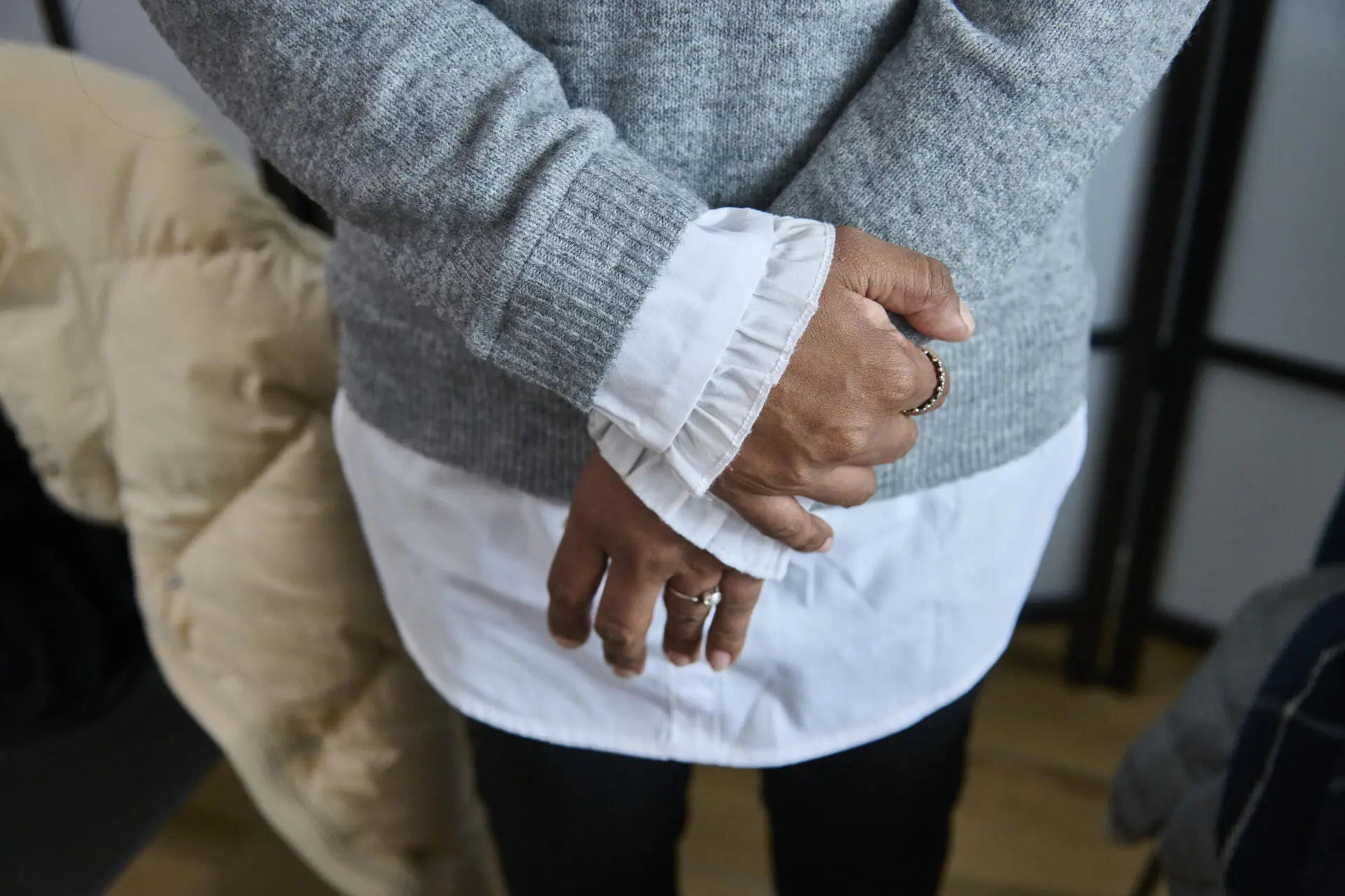
Contudo, esta não é a única história que as paredes daquela associação de apoio a imigrantes já escutaram: o romeno Ioan Nistor sentiu o mesmo com a barreira linguística. Com três filhos, teve "um grande susto" quando "quase ficou cego" aos 40 anos.
A dificuldade em dirigir-se a uma urgência e explicar que estava com uma catarata em estado avançado levou a que tivesse de recorrer à ajuda da Associação de Imigrantes Mundo Feliz. Quem o diz é Cecília Minascurta - que nasceu na Roménia e é fundadora daquela instituição -, mediadora neste caso.
Para ele [Ioan Nistor] foi um grande susto. Só me recordo da imagem de sair com ele [do hospital] pela mão, a tentar segurá-lo, e pô-lo em casa, porque ele não via nada. Andava devagarinho até chegar ao carro. Não foi fácil, mas ele era o sustento da família e era como se fosse a única salvação para trazer comida para aqueles filhos.
O trauma foi de tal ordem que Nistor acabou por voltar à Roménia apenas 12 meses após este episódio. Os quilómetros de distância não o impedem, porém, de ligar "todos os anos" a agradecer a ajuda.
Com um sentimento de missão cumprida, Minascurta evidencia que os responsáveis clínicos ficaram "sensibilizados" após a sua intervenção. Aquele hospital não tinha recursos humanos, nomeadamente tradutores, mas "não devia ser assim: eles deviam ser apoiados".
"[O hospital] não dava nenhum apoio e, se nós não estivéssemos lá na altura, com certeza que o senhor hoje em dia não conseguia ver. Não havia tradutores ou pessoas que falassem romeno."
A fundadora daquela instituição salienta também que, para quem chega a Portugal, "tudo é uma dificuldade", ainda que para quem cá vive "pareça uma coisa fácil".
Quem tem uma perspetiva mais otimista sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é Nene Awa Coly, que já está em Portugal há 17 anos: "Do fundo do meu coração, não estou nada arrependida, adoro a hospitalidade do povo português." A senegalesa vai, de vez em quando, ao médico "ver o que se passa com o organismo". Embora admita que a comunicação já foi "um bocadinho complicada", à medida que expandiu o vocabulário as coisas tornaram-se mais fáceis.

Na verdade, vê a correria das unidades de saúde como o grande entrave: "As pessoas também não têm tempo para te apoiar sempre. Temos de ter paciência."
Google Tradutor como solução?
Entre os métodos mencionados para ultrapassar estas dificuldades parece haver um denominador comum: o Google Tradutor. Se Riya revela apreensão com o facto de o sentido da frase poder ser alterado com o uso desta ferramenta, Nene assegura que "confia" na tecnologia.
A senegalesa de 46 anos lembra que a "saúde não é uma brincadeira" e aponta que é "obrigatório", tanto os profissionais de saúde, como os utentes, terem a "certeza" do que estão a transmitir, para que se possa "explicar as coisas de forma clara".
"Na tua própria língua, entras no Google Tradutor e mostras à doutora o que queres. Ela vai perceber. O mundo está a avançar a cada dia", assinala.
Riya dá menos credibilidade a esta ferramenta. Nos tempos de recém-chegada a Portugal, conta que recorreu ao Google Tradutor e à escrita no papel para facilitar a comunicação. Mas, muitas vezes, o sentido da frase foi "alterado": "Quis dizer que vim aqui por causa da minha condição médica e foi traduzido de outra forma. Eles não me entenderam e ficaram aborrecidos."
Minascurta é crítica na "falta de vontade" demonstrada por alguns profissionais na hora de atender os imigrantes, uma atitude que considera "desumana". Riya passou por esta experiência e lamenta que, a par de alguns médicos e enfermeiros que "tentam mesmo", existe também quem não "faça um esforço".
"Se existe uma barreira linguística, parece que nem querem atender a pessoa. Hoje em dia existe Google Tradutor, deviam tentar fazer um esforço para perceber o assunto [que levou o doente a estar ali]", destaca a representante da Mundo Feliz.

Cecília Minascurta considera que, quando se é imigrante, uma "barreira" é erguida e lamenta que a falta de médicos de família para os portugueses tenha sido usada como justificação para a incapacidade de atendimento de quem chega a Portugal: "Só depois de explicarmos e intervirmos é que [os profissionais] começam a ficar mais sensibilizados. Isto é injusto."
Confrontada com esta acusação de falta de interesse, a diretora da urgência geral polivalente da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José (Lisboa), Catarina Pereira, realça à TSF que ser médico "não é uma profissão, é ser, é tratar toda a gente, sejam japoneses, sejam criminosos". "A partir do momento em que a pessoa entra no hospital é uma pessoa, ponto", atira ainda.
Se eu tiver de preferir entre ver um doente português ou um doente paquistanês, eu não vou escolher. Vou ver ou o que está à espera há mais tempo ou o que está em estado mais grave. Tanto me faz o que quer que ele seja.
Já Teresa Teotónio Pereira, enfermeira especialista em saúde infantil, nos cuidados de saúde primários da ULS Amadora-Sintra, reconhece que os profissionais se veem a braços com "muito trabalho" e rejeita a ideia de "preconceito". Explica, no entanto, que o "desconhecimento das outras culturas" pode, "por vezes, trazer algum medo" - que é uma sensação que o "aproveitamento político" procura alimentar.
"Numa urgência, da porta para dentro, ninguém pergunta: 'Olhe, mas mostre lá, tem Cartão de Cidadão? Tem autorização de residência?' Primeiro atende-se e depois logo se vê como é que as coisas estão", refere igualmente.
Também Catarina Pereira admite que há "muita pressão", "dificuldades em recursos humanos" e, no fundo, o que existe é "um SNS a claudicar". Porém, "o conceito de doente" mantém-se imune ao facto de o tempo ser escasso: "Ninguém vê pacientes a correr."
Sobre a comunicação com os imigrantes, a médica esclarece que trabalhar em urgências é reagir "no minuto" sem "muitas opções", além do Google Tradutor ou do ChatGPT. Recorrer a um serviço de tradução neste contexto "é difícil porque implica telefonar e esperar que a pessoa chegue".
A enfermeira nota, por sua vez, que, como quase tudo, estas ferramentas têm as suas vantagens e desvantagens e, por isso, a profissional de saúde decidiu pôr o programa à prova: "Tentei usar o Google Tradutor para falar hindi [da Índia] e depois fiz uma experiência que foi pôr aquilo ao contrário. O que me apareceu foi uma coisa estranhíssima - ou porque o Google Tradutor traduz palavra a palavra ou, então, sou eu que se calhar não sou muito boa naquilo. Não traduz o sentido da frase. É muito complicado."
Teresa Teotónio Pereira conta ainda o caso de uma mãe de nacionalidade estrangeira que "trocou o remédio" que tinha de dar ao filho. Acredita que tal aconteceu porque a mulher "não percebeu" qual era o medicamento que deveria administrar. Apesar de não ter acontecido nada de grave, destaca que é preciso acautelar estas situações.
Catarina Pereira também não aposta todas as fichas nestas aplicações, até porque, confidencia, já falharam no momento de assistir um cidadão chinês que "não falava absolutamente nada de português, nem inglês".

"Ainda tentámos utilizar o ChatGPT e o Google Tradutor, que não funcionaram. Não conseguimos porque, para já, o nosso teclado não tem alfabeto em mandarim e, quando ele [o paciente] falou, o próprio Google Tradutor não conseguiu fazer a tradução para português", exemplifica.
Adianta igualmente que o homem "apontava para a barriga" e, aí, perceberam que se tratava de uma dor abdominal. Na ausência de uma comunicação eficaz, resta aos profissionais de saúde pedirem análises e exames detalhados: "Vamos ter de abrir a chaveta para tudo." Descobriram depois que "as análises ao fígado estavam muito alteradas e há uma miríade de coisas que poderiam causar aquele quadro", até porque os médicos não conheciam a história clínica daquele paciente, nomeadamente que medicação poderia estar a tomar.
Acabou por ficar internado, já onde a barreira linguística é mais fácil de contornar porque existe a possibilidade de recorrer às embaixadas para pedir "serviços de tradução, que, com mais calma, podem vir e fazer a história" dos utentes.

Catarina Pereira equaciona ainda um cenário de "perigo de vida" para explicar que, nessas situações, a preocupação principal recai, sobretudo, sob o tratamento do órgão afetado e não tanto sob o diagnóstico detalhado.
"Quando falamos de forma errada, fazemos pior"
Teresa Teotónio Pereira é a prova viva de que há empenho dentro dos corredores hospitalares para construir pontes com quem lá chega. A enfermeira domina quatro línguas estrangeiras e o facto de trabalhar na zona urbana de Sintra - que recebe "um número significativo" de pessoas vindas de África, sobretudo da Guiné-Bissau - motivou a inscrição num curso de crioulo guineense. Além de ser "um curso de língua, é também um curso de cultura", algo que considera fundamental para estabelecer relações.
Esta aprendizagem multidisciplinar capacitou a enfermeira para abordar um tema sensível: a mutilação genital feminina. Se no início sentia alguma resistência para que estas mulheres partilhassem o seu trauma, hoje em dia já o vai conseguindo fazer de forma mais natural.
"Há muitas coisas que nós, portuguesas, falamos e dizemos que na cabeça daquelas mulheres é uma loucura. Não é assim que as coisas são ditas. Quando nós dizemos da forma errada, elas fecham-se. Tenho duas ou três [pacientes] que olharam para mim surpreendidas quando eu disse: 'Foi ao fanado?' e elas ficaram assim: 'Como é que esta sabe o que aquilo é?' Eu sou muito branquinha e elas pensaram: 'Que estranho.' Elas aceitam melhor, ficam mais recetivas, confiam", revela, depois de esclarecer que fanado é o nome crioulo para mutilação genital feminina, expressão científica usada na Europa.
"Nós não podemos dizer às mulheres que elas são mutiladas, não é assim que se fala. Elas foram ao fanado. Quando nós falamos com as pessoas da forma errada, estamos a fazer pior", acrescenta.
Teresa Teotónio Pereira traz ainda a debate "a questão da perceção", palavra que tem dominado a agenda mediática. No último ano, a equipa que integrava começou, aparentemente, a ter "muitos" testes do pezinho em filhos de casais do subcontinente indiano. A curiosidade perante tal fenómeno fê-la confrontar com os factos. Percebeu, então, que os números lhe mostravam outra realidade: "Achávamos que passávamos a vida nisso. 'Mas o que é que se passa? Há tantos!' E, depois, quando fomos ver a estatística, nos 60 que tínhamos feito, seis eram do subcontinente indiano."
Considerando aquele um "número irrisório, porque 20 eram da Guiné-Bissau, outros 20 eram do Brasil", a enfermeira argumenta que "é muito mais absorvente - pela comunicação, pela cultura - interagir com as pessoas do Paquistão ou do Bangladesh". Este caso prova que as perceções podem ser "erradas" e chegar a esta conclusão é algo "estranho, até cómico".
A preocupação com a adaptação cultural está também presente na ULS São José. Ainda que não diga respeito a uma barreira linguística, Catarina Pereira menciona que a instituição conta com a presença de um mediador cultural para a população cigana, que tem assumido um papel importante no que diz respeito à convivência intersocial.

Sobre os imigrantes cuja língua materna tem "muitos dialetos", a médica alude que mesmo que falem "um inglês muito básico" isso é visto como uma "ajuda". Quando entram no consultório, "a primeira coisa que dizem é english, please".
Se o cenário não for este e não conseguirem manter uma conversa em inglês, o paciente ou vem acompanhado ou pede, antes, para "ligar a um familiar, que vai servindo de intérprete".
Da integração à empatia
Perante tantos constrangimentos, o que se pode então fazer para garantir que os imigrantes têm um acesso pleno ao SNS? A resposta é complexa, ainda que profissionais e pacientes indiquem várias possibilidades.
Catarina Pereira sublinha desde logo a urgência de "identificar quem é que são estas pessoas e tentar integrá-las ao máximo" no setor da Saúde. Mais do que formar médicos "para a situação particular da barreira linguística", afirma que é importante dar a conhecer o modo de funcionamento destas instituições, para que o acompanhamento possa ser "mais regular".
"Acima de tudo, é importante identificar e integrar estas pessoas para elas poderem ter cuidados de saúde, porque, neste momento, temos uma quantidade já apreciável de população migrante e que poderá inclusivamente constituir um problema de saúde pública", alerta, reforçando a importância de planos de vacinas e rastreios adequados.
Já a possibilidade de atrair e fixar médicos estrangeiros não é encarada pela médica como "uma solução global" para ultrapassar barreiras, até porque estes "têm formações completamente diferentes", o que implica "um percurso longo para conseguir equivalências".
Também Teresa Teotónio Pereira recusa que a solução passe pela fixação de enfermeiros estrangeiros no SNS. "Somos mais nós que queremos ir embora", ironiza, apontando que o curso de enfermagem em Portugal é "muito bom" e, por isso, os profissionais são "cobiçados" lá fora. O que é necessário fazer é "um plano estruturado", como o que se fez para acolher alguns refugiados.
Atualmente, há 1311 enfermeiros estrangeiros a trabalhar em Portugal, a maioria vindos do Brasil (469) e de Espanha (294), segundo dados da Ordem dos Enfermeiros enviados à TSF.
Cecília Minascurta pede também a presença de materiais informativos nas estruturas de saúde que indiquem aos imigrantes, de forma clara, aquilo que precisam de ter para poderem pedir uma consulta e conhecerem as "condições". Nota igualmente algum "desconhecimento" por parte das "pessoas que estão no atendimento".
"Uma pessoa que tem uma manifestação [de interesse], número de Segurança Social e de contribuinte já está a trabalhar, traz um atestado que comprova que está a morar naquela zona, já se deveria poder inscrever no centro de saúde. Mas, na mesma, não consegue", realça, pedindo mais "formação" no que diz respeito à imigração.
Para Riya, o caminho a percorrer tem de seguir duas palavras-chave: "Bondade e empatia." Como? "Treinando algumas pessoas para serem gentis e terem paciência para ouvir" quem é novo no país: "Porque eles [imigrantes] estão muito confusos."
Recuando no tempo, a bengali recorda que, quando chegou a Portugal, estava "muito frustrada com tudo", principalmente em tentar perceber como se podia "integrar" na sociedade: procurava informação no Google, mas "não era suficiente".
Agora, encara a integração como uma "jornada" e não como um problema. Quando conta à TSF, em português, que já provou bacalhau, assume: "Ainda tenho esperança. Leva tempo a aprender qualquer cultura."
As respostas do SNS
Na procura por tentar perceber o que é que já está a ser feito em Portugal para acolher imigrantes, a TSF foi bater à porta do Ministério da Saúde para falar com aqueles que estão na primeira linha da luta pela integração.
Questionado pela TSF sobre se a língua se configura como uma barreira no acesso ao SNS, o coordenador da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde não hesita na sua resposta: "É, com certeza." E defende que para ser possível ultrapassá-la é "necessário mobilizar todas as estratégias e imaginação".
Fernando Regateiro sublinha de imediato que a "humanização se faz com comunicação" e argumenta que a "empatia e compaixão" são elementos essenciais para quem lida com doentes, que antes de mais são pessoas.

Ressalva que essas capacidades "têm de vir de dentro para fora", já que "ninguém as ensina, assumem-se por educação". E aqui está o cerne da questão: podem realizar-se ações de formação, mas "não fica nada resolvido" somente à custa disso.
O também professor dá um exemplo de como um simples gesto pode mudar o atendimento: "O sorriso é uma ferramenta extraordinária na relação, abre portas e mostra o nosso íntimo." Além disso, não adiciona uma tarefa ao já atarefado profissional de saúde.
Regateiro lembra que a prestação de cuidados de saúde é também "uma forma de acolher e integrar": "É dizer ao cidadão migrante: 'Reconhecemos a tua individualidade e diferença, mas a tua presença não nos agride. Acrescenta-nos. Faz-nos bem'."
É evidente que um Estado que preza a individualidade e o respeito pela dignidade das pessoas presta cuidados de saúde a qualquer pessoa que lhe apareça. Primeiro presta e depois preocupa-se com o resto.
Indo mais longe, garante que um atendimento humanizado é "mais eficaz". Os benefícios ultrapassam o utente que, neste contexto, tem uma "melhor adesão à terapêutica", reduzindo as complicações e induzindo a uma recuperação mais "rápida". Também para o profissional de saúde é "útil e vantajoso": há um "alívio do peso do trabalho", assim como uma redução do "stress", e cria-se um "sentimento de satisfação e felicidade", diminuindo a "margem de erro".
Assevera, por isso, que "não há nenhum movimento na sociedade ou no Estado português que contrarie esta escolha bem portuguesa de acolher".
Vamos ao terreno. À mesa com a TSF, estiveram também representantes de quatro estabelecimentos de saúde do distrito de Lisboa: Amadora-Sintra, São José, IPO e Almada-Seixal. Denominador comum é que todos têm uma bolsa de tradutores, sendo que encontrar falantes de hindi, bengali e mandarim se afigura como o mais complicado. De resto, há desde checo a alemão até ucraniano ou russo.
Helena Isabel Almeida, coordenadora da Comissão de Humanização do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, refere que a instituição tem disponível a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes traduzida em várias línguas. Espera poder fazer brevemente o mesmo com o consentimento informado relativo a tratamentos.
Por ano, 20% dos atos realizados são a estrangeiros e, por isso, existem "grandes preocupações" para servir uma população "carateristicamente muito diversa". Nasceu assim a denominada Pasta da Diversidade, que permite um fácil acesso a "livros e artigos sobre o acolhimento de pessoas migrantes", assim como a "áreas de patologias específicas". Os folhetos com Código QR para ferramentas de tradução imediata foram outra solução encontrada.
Procurando aproximar a relação profissional-utente, o Amadora-Sintra promove bianualmente uma formação em comunicação empática, sendo um dos segmentos destinado à "comunicação com o doente diferente". Na pediatria, existe também uma "sessão específica anual sobre a criança migrante".
"As nacionalidades mais frequentes são a brasileira e de vários outros PALOP e, depois, a ucraniana e de países do subcontinente indiano. Não podemos perder a nossa visão de que é para estas populações que devemos dirigir as nossas ações", avisa.
Já sobre aquilo que pode ser melhorado, Helena Almeida expressa o desejo de voltar a ter um mediador cultural na instituição e ambiciona a construção de um espaço de "reflexão", para os vários credos se encontrarem num "sítio amistoso para praticarem a sua religião ou terem um momento de calma". A linha telefónica da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que disponibiliza traduções em 14 línguas, é uma ferramenta amplamente explorada, ainda que "às vezes funcione bem, outras vezes está ocupada".
A "centralidade no utente" também está visivelmente presente na ULS Almada-Seixal, onde o "movimento associativo é muito forte", clarifica Eunice Teixeira, socióloga e diretora do serviço de humanização. Isto permitiu levar aos bairros da zona um projeto "direcionado para as mulheres imigrantes", onde se desenvolveram várias ações de educação em saúde, sobretudo, rastreios.
Elizabete Santos, enfermeira gestora do serviço de internamento e ambulatório de obstetrícia desta unidade, lembra que 50% dos pacientes que aqui chegam "não são portugueses". A tradução da comunicação do hospital foi já uma das medidas adotadas. Em curso, está ainda o desenvolvimento de um e-book.
A ULS Almada-Seixal concorreu igualmente ao programa Bairro Feliz (Pingo Doce), tendo aqui conseguido obter um prémio que irá permitir a "aquisição de tablets", onde toda a informação hospitalar sobre amamentação estará traduzida e permitirá com "maior facilidade" a partilha de "experiências e culturas".
A representar a primeira ULS do país com um mediador intercultural para a população cigana, a enfermeira Ivete Monteiro olha para o futuro e enfatiza que o próximo passo é a tradução dos consentimentos informados: "É fundamental as pessoas saberem o que é que estão a assinar e que o façam de forma esclarecida."
Mudar a sinalética para melhor indicar onde são as salas de espera e os laboratórios, "nomeadamente através de imagens que sejam facilitadoras", é também um dos projetos ambicionados, conta a também enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria.
Já Sofia Mariz, do IPO de Lisboa, destaca que nesta unidade existe "uma linha de comunicação clara", uma "cultura já instituída".
