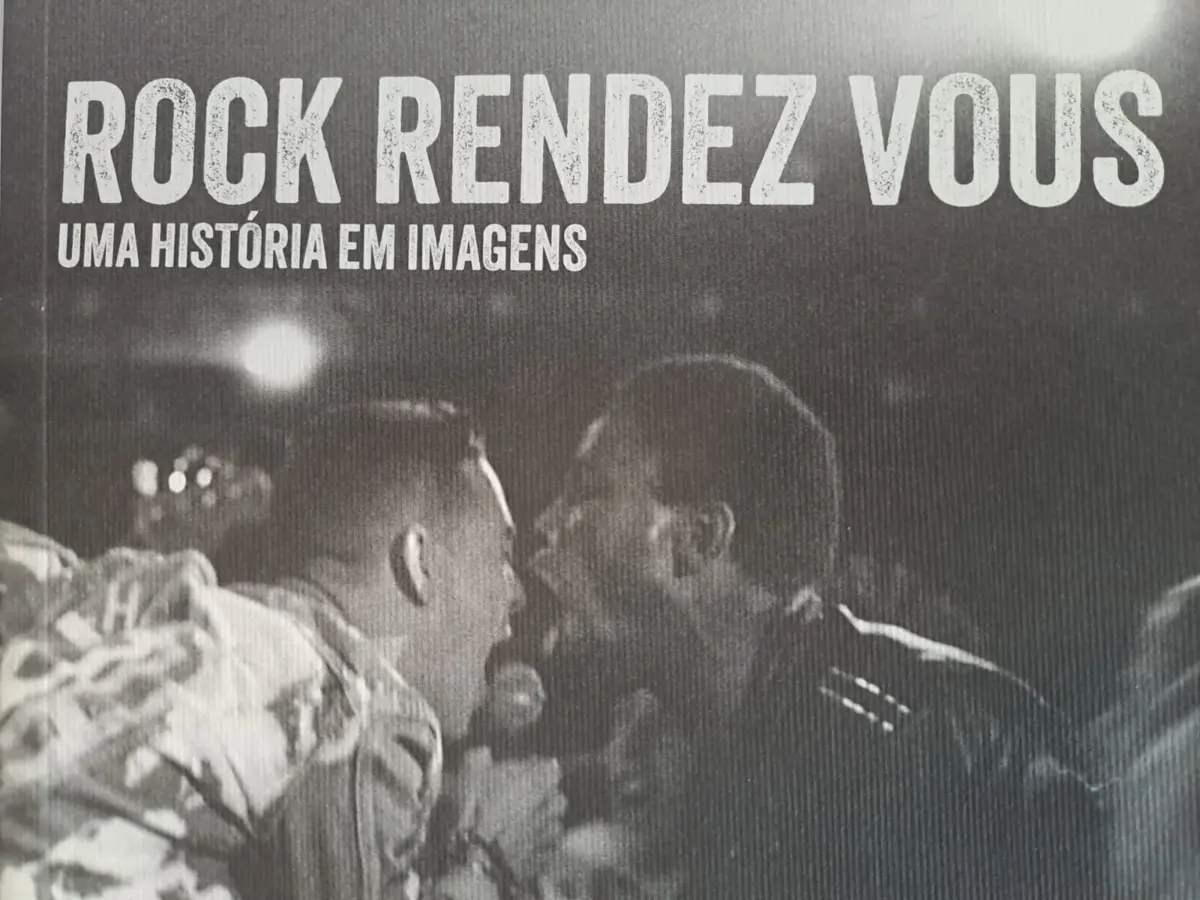
Direitos Reservados
Um livro e uma exposição sobre a catedral do rock e da música ao vivo do Portugal saído, anos antes, da revolução libertadora. Uma oportunidade de reencontro de uma comunidade de músicos, fotógrafos, jornalistas, produtores, público. O que foi não volta a ser?
Há muitos anos que não há RRV na “Rua da Beneficência 175” (também titulo da exposição ontem inaugurada umas centenas de metros acima e à direita, no 10ª da Rua Alberto de Sousa, Teatro das Avenidas, em Lisboa, patente até final de maio, das 10h às 18h) mas quando se passa à porta e estamos ao lado do músico e produtor Luís Varatojo, que lá tocou com os Peste & Sida, é impossível não perguntar o quão especial tocar aqui: “No Rock Rendez Vous (RRV)? Era, claro que sim. Era aquele sítio onde nós vínhamos ver os concertos das bandas que gostávamos e vínhamos às matinés abanar o capacete quando éramos mais pequenos, e depois, quando viemos tocar, vínhamos tocar a catedral, não é?” Um dos grandes concertos que Varatojo lá viu foi o “1º de Agosto ao Vivo no RRV”, a 31 de julho e 1 de agosto de 1986: “foi um arraso, esse concerto dos Xutos”. O vocalista da banda, Tim, aparece logo na primeira fotografia das exposição, ao lado do homem que dirigia o RRV, Mário Guia (proprietário da editora Dansa do Som, pela qual seria lançado o mítico álbum Cerco, em finais de 1985).
O RRV foi palco para centenas de bandas portuguesas como a Jovem Guarda de Luís Carlos Amaro, coordenador do livro “Rock Rendez Vous, uma história em imagens”: “Foi um período especial na minha vida e com certeza que era também um período especial na vida de muita gente que tocou lá e que assistiu a muitos concertos que se passaram no ‘Rock’”, como a sala no bairro do Rego era carinhosamente conhecida. Amaro diz nunca ter percebido “porque nunca ninguém tinha pegado nessa memória; ela existe repartida por muitos contributos singulares, em pequenos posts ou fotografias”.
O livro (com edição da Tinta da China), apresentado por um dos maiores conhecedores desta realidade e tempo, o radialista Henrique Amaro, colaborador editorial do projecto (que promove conversa dia 20, com alguns dos protagonistas do livro), junta textos de Ana Cristina Ferrão (jornalista, autora da primeira biografia dos Xutos & Pontapés e companheira do saudoso radialista António Sérgio, do Som da Frente, Lança Chamas, A Hora do Lobo) e Pedro Félix (Museu Nacional do Som, antropólogo, Investigador do Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança da Universidade Nova de Lisboa, tese de doutoramento sobre os Xutos) a centenas de fotografias de Céu Guarda, Rui Vasco, Fred Somsen, Álvaro Rosendo e os já falecidos Peter Machado, Pedro Lopes e José Faísca, todos eles com percurso pela imprensa musical portuguesa. Para o coordenador da obra, o objectivo foi também fazer algo que “conseguisse juntar toda essa informação, toda essa memória e conseguisse valorizá-la como devia ser. Demorei vários a tentar concretizar a ideia, mas também quis aproveitar os 50 anos do 25 de Abril para poder lançar o livro, fazia mais sentido, porque basicamente o RRV no fundo, também foi um espaço onde conseguíamos projetar aquilo que fazíamos, onde conseguíamos conversar com pessoas que sentiam também essa ansiedade de ver o que é que se passava e que se podia experimentar, por isso é que foi uma época tão rica de vários géneros musicais, porque era tanta ansiedade de poder fazer novas músicas! No fundo, foi um clube de rock muito, muito particular onde a pessoa podia estar no palco e a seguir podia estar a assistir, a falar com o músico da banda que vinha a seguir, podia estar a criar uma banda e a seguir podia estar a fazer inúmeras coisas. No fundo, aquilo era um clube onde se vivia essa liberdade criativa”.
Esta quinta-feira parecia que estavam lá todos. Ou muitos. Xana e Flak (Rádio Macau), Tim (Xutos), Jimba (Afonsinhos do Condado, Irmãos Catita), Jorge Bruto, Pinela e Nazaré (Emílio e a Tribo do Rum, Capitão Fantasma), João Pedro Almendra, João San Payo e o já citado Varatojo (Peste & Sida), Luís San Payo (Pop Dell Arte, Croix Sainte), Vitor Rua, João Peste (Pop Dell Arte), João Xana (Urb), Manuel Cardoso (Frodo), Mário Miranda (Sitiados), Nuno Rebelo (Mler Ife Dada), Orlando Cohen (Censurados), Tó Trips (Amen Sacristi, Lulu Blind, Dead Combo) daqueles que o repórter conseguiu identificar ou associar nome e cara. O tempo passa… e marca-nos. Em quilos, em rugas, em brancas, em memórias e afetos, em vida.
Era outro tempo o tempo aqui construído em exposição fotográfica e livro. Como escreve Ana Cristina Ferrão, “foto a foto, constrói-se a narrativa de uma época ainda toldada pelo cinza de uma ditadura patriarcal, de uma economia frágil que vedava o acesso à cultura e de uma política de ensino que convivia bem com a enorme taxa de analfabetismo. Afirmam-se a música e a arte como estruturantes para a evolução da sociedade, com especial foco na transformação da juventude pós-25 de Abril, ávida por encurtar o fosso que a separava das congéneres que tinham conhecido a liberdade tantas décadas antes”.
Rui Vasco foi um dos fotógrafos residentes do RRV, logo desde o início, num extraordinário tempo de criação, de experimentação. Ouvido pela TSF, reconhece que fotografar no RRV “era uma aventura fantástica”. Foi fotógrafo residente desde o início de funcionamento da sala, em 1981, até 1985 – “fazia aquelas fotos que depois iam para a parede da sala do bar, quem foi lá, lembra-se bem. Depois, mais tarde saí, fui substituído pelo Peter Machado e voltei à fotografia fora do país. Voltei a fotografar no RRV no final dos anos 80 e até ao final do Rock Rendez Vous. As condições, aí, já eram diferentes. Nós como fotógrafos, técnicos de luz, todos nós evoluímos. Agora, 1981 era mesmo uma grande maluqueira, eu próprio comecei a fotografar sem saber fotografar”.
Na memória de Rui Vasco, há negativos que foram o seu contrário, ou seja, concertos memoráveis: “a lista é muito grande. Houve concertos fantásticos, momentos hilariantes e outros muito aguerridos. Sei lá, nas bandas portuguesas o início… aqueles dinossauros todos dos anos 70, onde eu já vou incluir o Rui Veloso porque estava com o Zé Nabo, o Ramon, os Salada de Frutas, os Roxigénio, as super bandas portuguesas e depois a descoberta do dos novos valores, os Croix Sainte, os Pop Dell arte quando aparecem nunca ninguém tinha visto nada assim, os Mler Ife Dada que não pareciam sequer deste planeta, quanto mais do país, é pá tantas bandas… os próprios Xutos que, de início, muita gente achava que não iam a lado nenhum. Como é que estarão esses gajos das editoras hoje, que diziam ‘os gajos não valem nada, pá’. Fazer parte disso, de uma certa maneira, era a vontade de querer ser diferente, como uma vez o Zé Pedro, disse ao vivo no RRV”. ´
Para o antropólogo Pedro Félix, aqueles músicos e todo o circuito do RRV também são filhos do 25 de Abril: “muitos deles nasceram antes do 25 de Abril, mas eles também são o resultado 25 de Abril, do Rock and Roll e tudo mais. E eu acho que que isso é fundamental para chamar a atenção para esta comunidade e para este espaço. E aqui, quando digo comunidade, esta comunidade, músicos, técnicos, público e isso é emocionante. É emocionante ver pessoas que já não se viam há anos e depois também é muito interessante vermos pessoas mais novas que nem sabiam que este senhor ou aquela senhora eram músicos, nem fazem ideia e esperamos que que isto seja só o princípio deste novo interesse por esta Comunidade. Há, de facto, a emoção de uma comunidade que se junta e que estava à espera que isto acontecesse. Mas eu acho também que é importante trazer para o espaço público.”
Luís Varatojo aceita a ideia de que a sala da Rua da Beneficência - que antes foi Cine Bélgica (entre 1928 e 1931), Bélgica-Cinema (1931-1968), Cinema Universitário, de 1969 a 1974 e Cinema Universal, de 1974 a 1977 - era uma espécie de chave para abrir outras portas: “era o início um circuito, obviamente que tinha alguma visibilidade e que depois se podia ampliar para concertos no resto do país. Lembro-me de tocarmos aqui, depois irmos ao Luís Armastrondo no Porto (também demolido, na Rua dos Mercadores, na ribeira portuense), depois mesmo outros concertos nas escolas, enfim, o RRV tinha alguma projeção sim, permitia que isso acontecesse”. O músico que agora tem o projecto Luta Livre lembra-se de momentos que viveu no RRV hoje dificilmente imagináveis: “a primeira vez que vim aqui foi uma matiné e estávamos para aí em 1983, eu não tinha leitor de vídeo em casa, como quase ninguém tinha e, de repente, a matiné era videoclipes dos Police, nunca mais me esqueço disso, tudo ali com entusiasmo a ver os vídeos dos Police, sala cheia durante a tarde”.
Luís Carlos Amaro lembra-se bem da “tensão com que com que ia para o palco, porque eu sabia que tinha, para além de muitos amigos que eu sabia que iam lá ver o espectáculo - e isso era natural que os músicos fossem ver concertos de outros músicos que eram amigos, portanto, havia no fundo essa convivência, mas havia sempre também uma tensão porque, no fundo, ir tocar ao Rock Rendez Vous era como se fosse uma credibilização”. Dava prestígio. O RRV também viveu grandes noites com bandas internacionais, como Julian Cope & Teardrope Explodes, The Sound, Wilko & The JOhnsons, Sprung Aus Den Wolken (“era a banda que se queria ouvir porque tínhamos visto o filme As Asas do Desejo e aquilo era a coisa mais próxima que tínhamos daquela ideia que nós gostávamos, dos Eintzurzende Neubaute, do Nick Cave e aquilo era estar a partilhar aquele espaço e foi muito bom, foi um concerto brutal, brutal”, afirma Pedro Félix), Lords of The New Church, Michelle Shocked, The Meteors, entre outros dos “1500 concertos de 300 intérpretes e grupos”.
Sabendo que “o livro ia ser um espaço da memória das pessoas, uma memória que é emocional”, Félix assume que tentou “fazer o movimento contrário, afastar-me e olhar com um olhar crítico, o mais crítico possível para esta realidade, porque também tinha a garantia que a Ana Ferrão ia tratar da parte emocional”. Ferrão termina o texto com essa carga: “as salas podem fechar, mas memórias não se apagam”. O investigador já apanhou o RRV na sua fase derradeira, “o que também era inevitável, porque outras formas de sociabilidade estavam a emergir, não é? O RRV também acaba por ter menos público, porque as pessoas começam a ir para o Bairro Alto, para as discotecas e, portanto, é esta história tão rica que não só fala do boom do rock português, mas vai até ao boom da noite de Lisboa”. O Johnny Guitar (dirigido por Zé Pedro, Alex Cortez e Luís Tomás) veio depois, mas durou poucos anos, nos anos noventa. Continua a faltar um clube de rock na capital portuguesa? Pedro Félix afirma que “neste momento e do ponto de vista distanciado e crítico, a sensação que eu tenho é que a comunidade musical em Portugal é muito pequena. Nós não somos uma cidade como Londres ou Nova Iorque, quando podemos ter espectáculos todas as noites. Há muitos grupos, mas não são suficientes para manter e temos de ser realistas, uma indústria de uma sala aberta, com um público, senão todas as noites, pelo menos 3 ou 4 noites por semana”.
Mas a exposição “Rua da Beneficência 175” e “Rock Rendez Vous, uma História em Imagens” dão vontade que isso possa ser possível, até porque, como recorda Pedro Félix, “quantas fotografias nós encontramos em que vemos na plateia o João Peste, depois noutra fotografia está o João Peste no palco e temos o Farinha (Farinha Master, dos Ocaso Épico) na plateia e, portanto, é esta bola de neve. Se calhar é preciso, seria interessante porque não recriar o espírito, obviamente com outros músicos, com outros géneros, com outras realidades. E olhar para o futuro”. “Nem nas grandes capitais europeias isso existe hoje, está tudo disseminado”, afirma Henrique Amaro, que lembra que esse papel é feito, hoje em dia, por várias salas em todo o país.
Se tal sala existisse, talvez a Xana cantasse que “amanhã é sempre longe demais” e o Tim respondesse com “o que foi não volta a ser, mesmo que muito se queira e querer muito é poder”, antes de – no coletivo Resistência - ter cantado a versão de A Noite (original dos Sitiados) que, na voz do João Aguardela nos ensinou que “só o sonho fica, só ele pode ficar”.
