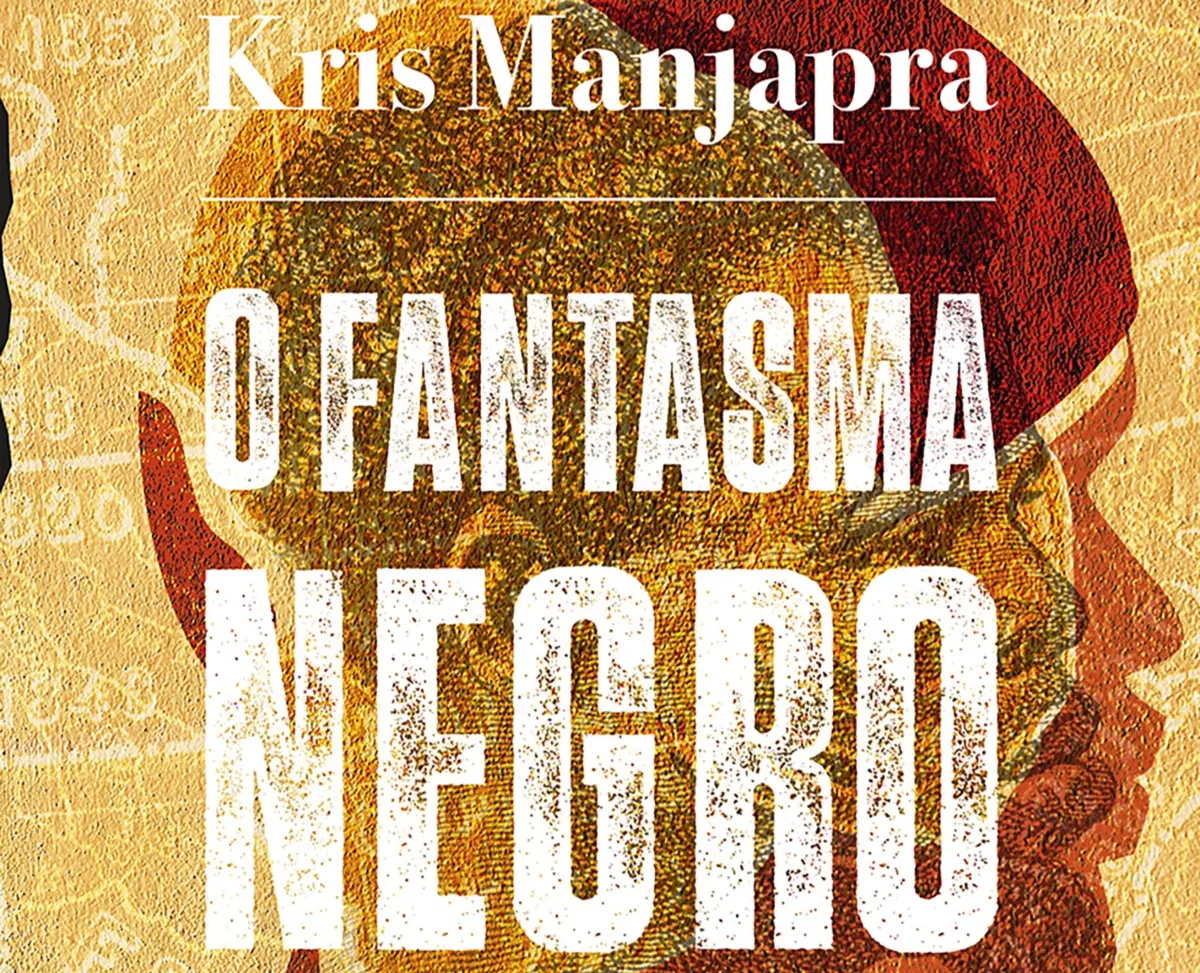
DR
Kris Manjapra, professor em Boston, Massachussets, e autor do livro “O Fantasma Negro do império: a longa morte da escravatura e o fracasso da emancipação”. Entrevista na TSF sobre racismo estrutural e sistémico, emancipações inacabadas, reparações por fazer.
Corpo do artigo
Kris Manjapra nasceu em 1978 nas Caraíbas, de ascendência africana e indiana. Cresceu no Canadá e completou a formação académica na Universidade de Harvard. Foi professor de História na Universidade Tufts e venceu o Emerging Scholar Award em 2016 da revista Diverse. Em O Fantasma Negro do Império – A Longa Morte da Escravatura e o Fracasso da Emancipação, o Professor de História e Estudos Globais na Universidade Northeastern Kris Manjapra revela como os cinco géneros de emancipação levados a cabo nas Américas, Europa e África proporcionaram um caminho falhado, mas não acidental, para a justiça, demonstrando como a compensação e a gratificação dos antigos escravistas e respetivos beneficiários foi meticulosamente planeada – descartando qualquer responsabilidade para com os escravizados. Considera que esta injustiça histórica continua, sem retificação ou compensação. O finalista do British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding 2023 e nomeado para o New England Book Award em entrevista na TSF.
Porque é que afirma que a história da emancipação da escravatura é uma história de inacabados?
Sim. Assim, a história da emancipação é uma história sem finais, porque um estudo atento do fim da escravatura mostra que foram postos em prática processos que serviram para pagar reparações aos proprietários de escravos, ao mesmo tempo que destituíam de direitos e desapossavam os povos libertados, e que estes processos não foram acidentais, foram planeados, e que faziam parte de um sistema internacional. De facto, um quadro internacional de emancipação, o que, por conceção, significava que as condições da escravatura, especificamente, a opressão racial e a repressão laboral, eram feitas para continuar ao longo do tempo, e continuar por gerações depois do fim da escravatura. Portanto, para mim, o ponto principal que saliento no livro é que isto não foi feito por acidente, mas por desígnio.
Isso significa que houve um sistema político criado para organizar esse quadro internacional deturpador da própria emancipação?
Um sistema político, mas mais especificamente, quadros jurídicos e quadros políticos. Assim, para ser específico, todas as emancipações que aconteceram na história, no mundo ocidental, começando na década de 1770 e até à década de 1880, todas elas implicaram quadros legais e aparelhos políticos concebidos para pagar indemnizações e reparações aos proprietários de escravos e aos seus descendentes. Portanto, são realmente estes quadros teóricos e políticos processuais que se baseiam na política. Sim. É sobre isso que o livro pode lançar alguma luz.
Fale-nos da construção do livro; tanto quanto percebi, começou na costa de Andros, nas Bahamas…
Sim, é isso mesmo. Portanto, o livro começa onde começa a minha família, que é na ilha de Andros, nas Bahamas, onde os meus antepassados eram pescadores. E começa aí, porque havia algumas das chamadas aldeias livres que existiam nessa costa, na sequência da emancipação do Império Britânico na década de 1830. Esta história pessoal sobre a razão pela qual eu, pessoalmente, como historiador, me interesso pelo que aconteceu depois da emancipação, é o ponto de partida para eu recuar no tempo e fazer o levantamento de toda a história deste processo. Assim, o que estava a acontecer no Império Britânico na década de 1830 estava, de facto, no meio da história. A partir daí, recuo até à década de 1770, quando a emancipação, enquanto processo formal, jurídico e político, começa em Filadélfia. E mostro como se desenvolveu um quadro específico, segundo o qual as pessoas escravizadas se tornavam livres, mas, quando se tornavam livres, eram obrigadas a continuar a trabalhar como escravos, mas apenas com um nome diferente. E que, a par disso, havia certas compensações que eram dadas aos escravizadores pela perda do título de propriedade dos escravos, que este pacote de opressão sistémica das pessoas agora libertadas e de recompensa sistémica dos antigos proprietários de escravos serve como uma espécie de modelo. E depois avança no tempo e faz parte deste processo de aprendizagem internacional que se move de Filadélfia, depois para o Império Francês e para o Haiti, onde a ideia de uma emancipação compensada se torna muito, muito maior no caso em que toda a nação haitiana, após a revolução, foi obrigada a pagar reparações aos proprietários de escravos franceses através da indemnização na década de 1820. E depois, a partir daí, passámos para o Império Britânico, a emancipação compensada, que foi a maior e mais imensa indemnização alguma vez paga por qualquer um deles. E foi tão grande que continuou a ser paga pelos contribuintes britânicos, bem como pelas pessoas das colónias britânicas até mesmo depois da independência. Até 2015. Portanto, há oito anos, e depois do caso britânico, o livro analisa o contexto holandês, sueco, dinamarquês, espanhol, português e americano, na década de 1860. E depois conclui levando-nos a África e mostrando como a emancipação também afectou a forma como os povos africanos foram colonizados na década de 1880-1890, muitas vezes sob a bandeira da emancipação, que os colonizadores iam emancipar os povos africanos colonizando-os. Portanto, há esta trajetória que me levou a começar nas Bahamas, mas voltando a Filadélfia, de certa forma viajando por todos os impérios europeus e acabando em África, que fornece a estrutura do livro.
No livro, menciona a sua tetravó Loreena Woodside que sobreviveu a um navio negreiro vindo de Angola. Como analisa o papel dos portugueses nesses processos de escravatura?
O papel de Portugal e do Império Português é essencial para a história. Não só porque o Império Português estabeleceu, desde muito cedo, a logística das viagens e as redes de transporte marítimo como um conjunto importante dessas redes de transporte, sobre as quais outros impérios se viriam a construir em termos de escravatura. Mas também porque estas redes de transporte marítimo detidas pelos portugueses continuaram durante o século XIX e desempenharam um papel muito importante na continuação do transporte marítimo de povos africanos raptados para o novo mundo, para as Américas. Tal como noutros impérios, a emancipação estava a começar a ganhar força. Por isso, havia muitos modos ou sistemas clandestinos e informais através dos quais o trabalho escravo era trazido de África, de lugares como Angola e Moçambique, e também de outros lugares, especialmente do Congo, no período entre 1830 e 1880 (à medida que a emancipação ia sendo introduzida, especialmente através do Império Britânico, e o tráfico de escravos estava a ser reprimido pela força naval da marinha britânica), enquanto isso os portugueses, traficantes de escravos e comerciantes portugueses, começaram a preencher a lacuna e a procura do mercado que estava a ser deixada em aberto por esta repressão, digamos, tanto britânica como americana, da escravatura. Portanto, é isso que eu acho que fornece o quadro mais importante para compreender o papel dos portugueses no século XIX, que é onde o livro faz o seu trabalho. E isso também afecta a minha família, porque é muito provável que a minha tetravó, Lorena, tenha sido trazida para as Bahamas em navios portugueses, provavelmente de algures no interior de África nos anos 1870 ou 80. Portanto, sim, este tipo de redes de comércio de escravos clandestinas, informais e ilegais, que estavam a ocorrer no contexto da era da emancipação, é aí que me centro na história portuguesa. Penso que é importante para o livro e é importante para a minha história pessoal.
A justiça e a indemnização das vítimas não foram devidamente tidas em conta na maior parte dos processos emancipação no mundo. O que é que nos pode dizer sobre os movimentos de reparação? Atualmente, daquilo que conhece, há processos em curso?
Sim, bem, adoro falar sobre esta questão. Porque há muita coisa a acontecer, na verdade ainda estamos na década da Década das Nações Unidas Para as Pessoas de Ascendência Africana, que começou em 2015. E que continua até 2025. De uma forma interessante, tem havido uma onda de movimentos de reparação à escala internacional que começou realmente em 2014 e 2015. E pode ter sido uma coincidência com esta década internacional da ONU para as pessoas de ascendência africana. Mas estes projectos de reparação surgiram nas Caraíbas, nas Caraíbas anglófonas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em toda a Europa. E estes movimentos, embora muito activos no seu quadro nacional, fazem também parte de uma espécie de acerto de contas internacional, que creio estar a ganhar cada vez mais força à medida que avançamos.
No contexto americano, sabe que a Califórnia criou uma comissão de reparação a nível estatal e que as suas conclusões foram recentemente publicadas. E agora está a decorrer um processo para determinar como é que essas conclusões vão efetivamente conduzir a decisões políticas. Do mesmo modo, em Nova Inglaterra e em Chicago, na cidade de Chicago, tem havido muitos desenvolvimentos e progressos em matéria de reparações. O que mais gostaria de dizer sobre reparações é que, neste preciso momento, na Grã-Bretanha, está a aquecer a discussão sobre algumas das recentes declarações que Rishi Sunak fez contra o processo de reparação dos negros britânicos. Sabemos que Maya Motley, em Barbados, fez declarações públicas sobre a necessidade de, mais uma vez, o governo britânico pagar reparações à CARICOM, à Comunidade das Caraíbas. Estes são apenas alguns exemplos. Mas estas exigências não são silenciosas. E estão a ganhar força e a juntar-se a uma espécie de coro, o que, na minha opinião, é muito novo para os nossos tempos. Quero dizer, é algo que surgiu nos últimos 10 anos. E talvez o último período em que tivemos tanta discussão sobre reparações tenha sido nos anos sessenta e setenta. Por isso, estamos a perceber que os ventos dessa época dos movimentos internacionais de direitos civis, estão a regressar à medida que entramos nesta espécie de meados do século XXI, o que me parece muito entusiasmante e promissor, tendo em conta a quantidade de outras coisas que parecem ser relativamente perturbadoras e preocupantes nesta altura, politicamente, a nível nacional e internacional.
Mas na Europa, e na América, já não há escravatura. Não existe formalmente, pelo menos. Tendo isso em conta, dirá que ainda existe uma supremacia branca?
Sim, penso que ainda existe uma supremacia branca, penso que este supremacismo branco…
No livro, escreve que a guerra suja contra os negros americanos ainda acontece…
Sim. Penso que isso é absolutamente correto. Há uma guerra suja que ainda está a decorrer e que tem duas causas. A primeira é económica e, tal como o livro mostra, houve interesses económicos que definiram a emancipação de formas específicas para beneficiar financeiramente, não só os proprietários de escravos, mas também os seus descendentes. Assim, criaram lucros geracionais e riqueza geracional que seriam sustentados por muitas gerações até aos nossos dias. Portanto, há uma razão económica e financeira para o meu argumento de que existe uma guerra suja. Mas há também, por outro lado, uma espécie de dimensão ideológica. Sabe, o racismo como ideologia é muito forte hoje em dia e tem continuado a ser muito forte, desde que se desenvolveu inicialmente como uma estratégia para controlar as pessoas e para extrair de certos tipos de pessoas, e para acumular essa riqueza para outros tipos de pessoas. Assim, tanto por razões económicas como por razões ideológicas, considero que existe uma guerra suja que tem as suas raízes nas histórias inacabadas de como a escravatura não terminou, que ainda nos assombra hoje.
Estamos simultaneamente, como sociedades, ainda presos a sistemas económicos desiguais que continuam a acumular riqueza no interesse dos descendentes dos proprietários de escravos e das pessoas que beneficiam desse tipo de sociedade. E também estamos presos em prisões ideológicas, em torno de conceitos sobre a diferença racial, e sobre que vidas de pessoas são menos valiosas do que as vidas de outras pessoas e de quem podem ser retiradas as vidas e o trabalho para dar a que outros grupos. É um sistema desigual de acumulação que se procura manter. Por isso, sim,
Terem tido um presidente americano negro, não produziu uma mudança substancial, então?
Bem, o que estamos a descobrir é que ter um presidente americano negro durante oito anos pode ter gerado uma onda intensa e contínua de ressentimento e de reação. E se pensarmos no que aconteceu no rescaldo de Obama com a chegada de Trump, mas se pensarmos a uma escala internacional sobre a ascensão de nacionalismos maioritários, a viragem para políticas mais à direita, que se destinam a privilegiar os interesses daqueles que já possuem grandes quantidades de capital, recursos e riqueza, pensamos no papel dos bilionários que estão a desempenhar um papel político dominante e um papel político de primeira linha nas notícias de hoje, como actores políticos, mas também como pessoas que estão realmente a intervir no processo político nas eleições e na forma como o conhecimento e a informação estão a ser distribuídos. O que está a acontecer nas universidades, o papel dos bilionários no ataque às universidades nos Estados Unidos, neste preciso momento, há o que me parece ser um projeto concertado, algo concertado de contenção e de vingança da direita e das forças de direita, das forças supremacistas brancas. E isto não é surpreendente, porque se pensarmos no que aconteceu, mesmo depois da Guerra Civil Americana, na década de 1860, por exemplo, tivemos o início do que viria a ser chamado de reconstrução, em que se discutiu, pelo menos, a concessão de indemnizações às pessoas libertadas, o que, pelo menos, estava a ser discutido e experimentado, o que era novo e que devíamos reconhecer e, de certa forma, celebrar.
Mas, na verdade, essas tentativas, que duraram apenas cerca de um ano e meio, de facto, só foram rapidamente encerradas. E o que se seguiu foram décadas da era Jim Crow, uma espécie de política de vingança, uma política de vingança conservadora. A minha pergunta é: será que é isso que estamos a viver hoje, e durante quanto tempo durará esta política de vingança racial? E quais os danos que poderá causar? Sim, penso que há uma verdadeira perseguição do movimento de reparação. Há um verdadeiro direcionamento de qualquer discussão sobre a redistribuição da riqueza e sobre a injustiça da forma como a riqueza é distribuída de forma desigual e racial nas sociedades. É uma realidade o facto de termos esta distribuição extrema da riqueza, e como é fascinante responder às exigências de mudança dos sistemas, que estão em rotura e que são injustos. A resposta é uma espécie de autoritarismo crescente, ou, francamente, uma viragem para o fascismo. Há aqui algo que penso ser realmente significativo no nosso momento.
No livro diz que, recuando até ao século XIX, considera a lentidão dos processos de emancipação nos EUA. Pode dar-nos alguns exemplos para que os nossos ouvintes e leitores compreendam melhor esta questão?
Os pormenores são que, se considerarmos, por exemplo, o local onde foram aprovadas as primeiras leis de emancipação em Filadélfia, quando as pessoas escravizadas eram libertadas, o escravizador tinha o direito de roubar, de trabalhar essa pessoa sem lhe pagar, por outras palavras, de a manter em cativeiro durante mais 17 anos. Ora, isso é muito tempo, são 17 anos. Quando olhamos para o que aconteceu apenas alguns anos mais tarde, em Nova Iorque, esses 17 anos, aquilo a que poderíamos chamar de navio de escravatura da pessoa livre, foram alargados para 27 anos. Assim, estas políticas que beneficiavam os proprietários de escravos durante longos períodos de tempo após a libertação existiam desde o início, não foram criadas, não foram reduzidas, mas sim alargadas, à medida que as políticas de emancipação eram inovadas em diferentes partes do mundo ocidental. Assim, quando chegamos a França, vemos que os primeiros pagamentos de indemnizações pagas aos proprietários de escravos despossuídos franceses foram feitos na década de 1790. E, no virar do século XIX, os primeiros pacotes foram concebidos para pagar aos proprietários de escravos durante várias gerações.
Assim, um proprietário de escravos começava a receber algum pagamento de indemnização pela perda da sua propriedade escrava e São Domingo, que se tornou o Haiti na década de 1790, os pagamentos finais eram feitos aos descendentes das mesmas pessoas na viragem para o século XX. Assim, temos agora um período de mais de 100 anos de pagamento de indemnizações, não só pagas ao proprietário dos escravos, mas também pagas aos seus descendentes. Ou então, sabe, tomemos o exemplo do que aconteceu no Império Britânico na década de 1830, em que, como referi anteriormente, houve um pagamento de reparações tão vasto que o Estado britânico continuou a subscrevê-lo durante 180 anos, até 2015. Por isso, penso que é muito importante reconhecer que as políticas que beneficiavam os proprietários de escravos durante períodos de tempo eram bastante universais. Assim, por exemplo, no império holandês, os proprietários de escravos recebiam uma indemnização e uma garantia de trabalho forçado das pessoas libertadas durante 10 anos após o fim da escravatura. No Império Britânico, acabaram por ser quatro anos; no Brasil, foram 12 anos após o fim da escravatura em que ainda haveria a garantia de trabalho escravo. Portanto, temos estes longos períodos de escravatura garantida, em primeiro lugar, mas depois temos também estas políticas que garantem várias formas de benefícios financeiros, pagamentos em dinheiro, benefícios fundiários que aconteceram muito, houve muitas concessões de terras que foram dadas em Porto Rico, por exemplo, e em Cuba, aos proprietários espanhóis de escravos.
E no caso do Sul dos Estados Unidos, como referi, houve um momento de esperança, em 1865, em que as terras dos escravistas foram confiscadas e deviam ser divididas e dadas partes dessas terras aos escravizados para que pudessem começar a sua própria vida. Mas, poucos meses depois de isso ter acontecido, todas essas terras foram novamente devolvidas aos escravistas, e, num certo sentido, se pensarmos nisso, é mais um exemplo de uma reparação em massa lhes foi paga, mais uma vez, aqui em termos de transferência de propriedade fundiária, certo. Portanto, quer se trate de propriedade fundiária, quer de benefícios financeiros, quer se trate da garantia de trabalho livre, estas diferentes formas fundamentais de benefícios económicos estavam a ser parceladas e pagas aos perpetradores, e não apenas por um período de tempo, nem sequer apenas durante as suas vidas, mas durante várias vidas deles e dos seus descendentes.
Tendo em conta tudo isto, sobre que bases se construiu o capitalismo? Creio que foi Cedric Robinson quem disse que o capitalismo é sempre capitalismo racial. A minha questão é: o capitalismo pode alguma vez libertar-se do racismo e do poder colonial?
Não. É uma pergunta muito boa e perfeita para se fazer. E, de facto, como diz, Cedric Robinson ensina-nos isso, também Rosa Luxemburgo nos ensina isso, e muitos outros tipos de pensadores do século XX, que analisam de onde vem a riqueza do Ocidente, salientam que o sistema capitalista ocidental tem sempre de estabelecer a zona colonial de extração, a fim de obter os seus enormes lucros. E, para sustentar as suas formas completamente instáveis, irracionais e extremas de acumulação de riqueza, uma forma tão desequilibrada de organização económica requer a colónia, e a colónia torna-se um local… como uma plantação, como um recurso que é extraído de forma menos intensiva, e a partir daí a colónia pode existir.
Isto é, olhando para o que nos ensinam Luxemburgo, Cedric Robinson e CLR, James e muitos outros, a colónia pode existir lá fora, pode existir num domínio colonial distante. Mas a colónia também existe aqui, existe localmente, de forma próxima, na própria nação, e o racismo como forma de criar diferenças sociais que permitem que a colónia seja criada ou construída, a raça ou a linha de cor, como lhe chama WB Dubois, traça a linha através da qual a extração pode ter lugar. A riqueza pode ser arrancada da terra, das famílias, das culturas, do trabalho, dos corpos trabalhadores das pessoas e transferida à força para os bancos e para as contas de um grupo muito, muito pequeno de capitalistas acumuladores. Esse sistema só pode existir porque existe o processo de racialização e colonialismo. Portanto, nesse sentido, não, não pode haver capitalismo sem racismo e sem colonialismo. É sistémico e estrutural. E isso levanta a grande questão: o que é que fazemos em relação a isto? E como é que reconstruímos a nossa ordem económica?
E quando começamos a colocar estas questões, em que a resposta é a redistribuição, é quando a pressão sanguínea das pessoas sobe, é quando a pressão sanguínea dos capitalistas sobe. E é aí que começam a guerra de riscos de vingança e as guerras sujas. É por causa dessa questão que a Guerra Suja tem sido travada.
Qual é o papel do projeto História Negra Em Ação que lidera a partir de Massachusetts?
Sim. A História Negra em Ação é um projeto que se centra numa igreja histórica em particular, numa cidade do Massachusetts chamada Cambridge. Situa-se entre a Universidade de Harvard e o MIT. Na verdade, esta igreja tem um grande significado, porque foi a primeira igreja de uma denominação chamada Ortodoxa Africana que foi criada por Marcus Garvey e pela United Negro Improvement Association na década de 1920 como parte do movimento pan-africano, era um movimento de reparação. Por isso, esta igreja é uma igreja de reparação. E o nosso projeto de "Black history in action" consiste em garantir que a igreja não seja gentrificada e vendida a promotores imobiliários, como está a acontecer em toda a Cambridge, como podem imaginar, mas também em trabalhar com a comunidade idosa que ainda frequenta a igreja para manter a sua missão como centro de direitos civis e de educação pública e para a satisfação de necessidades comuns.
Esta é uma igreja como muitas outras igrejas negras. É aquilo a que chamamos um terceiro espaço. É um espaço que não é privado e que também não é um espaço de trabalho. Mas é o espaço no meio do qual as pessoas vêm, para falarem juntas, falarem dos seus interesses, fazerem planos políticos, organizarem-se para ajudarem a mudar o seu ambiente local, na linha da construção de movimentos e dos direitos civis. E é essa missão de direitos civis de St. Augustine's que estamos a trabalhar para preservar. Isso significa especificamente que está a decorrer uma enorme restauração da igreja física, mas também uma reativação do papel da igreja como local de organização cívica e do movimento de reparação, localizado num local em Cambridge, entre as duas universidades mais ricas dos Estados Unidos, o MIT e Harvard.
